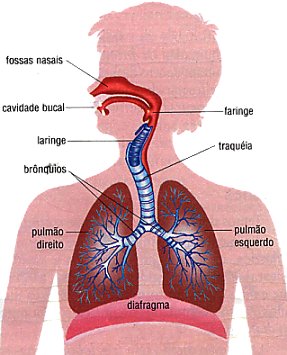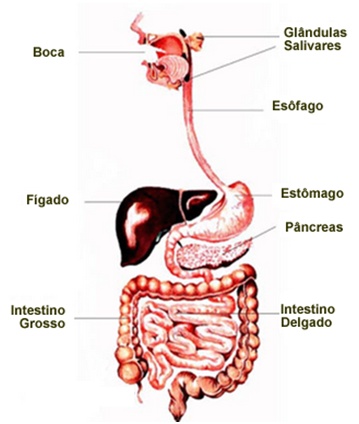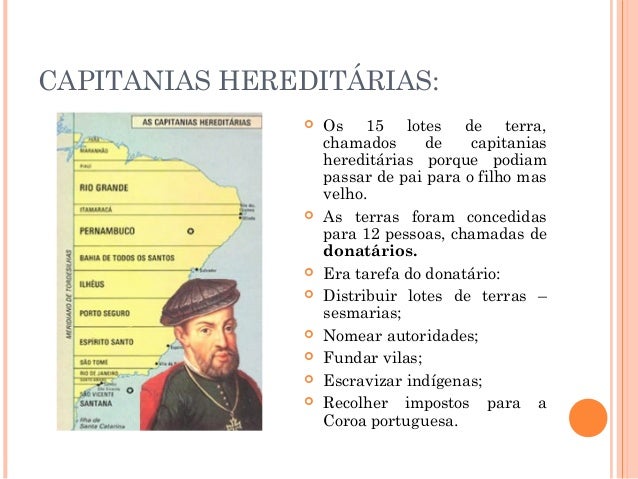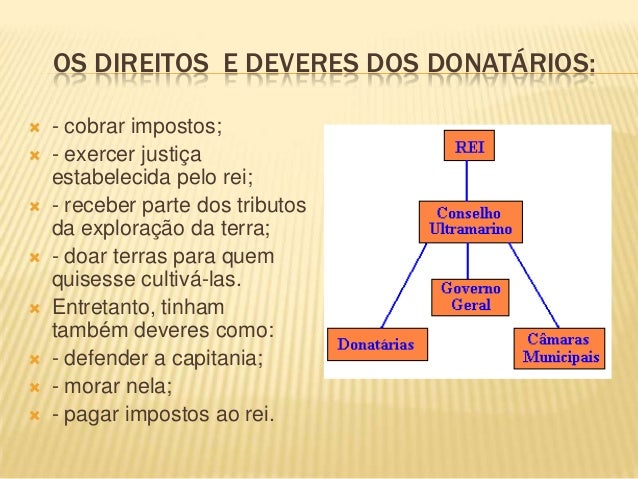No Brasil, durante o Período Colonial - período em que nosso país era dominado pelos portugueses - ocorreram movimentos de exploração do território em busca de índios para serem escravizados e também de ouro.
No Brasil, durante o Período Colonial - período em que nosso país era dominado pelos portugueses - ocorreram movimentos de exploração do território em busca de índios para serem escravizados e também de ouro.
Um desses movimentos, chamados de “Bandeiras” eram expedições, originadas
em São Paulo e dirigidas por homens determinados que exploravam o interior do Brasil. Esses homens eram chamados de Bandeirantes.
em São Paulo e dirigidas por homens determinados que exploravam o interior do Brasil. Esses homens eram chamados de Bandeirantes.
Houveram três “ciclos” de atuação dos bandeirantes:
No primeiro ciclo , chamado de “caça ao índio” , os bandeirantes capturavam índios para serem escravizados e vendidos aos fazendeiros de cana-de-açúcar. Nesta fase os bandeirantes invadiam tribos e missões jesuítas para capturar os indígenas, que eram levados acorrentados até os locais de leilão. Neste ciclo os bandeirantes mais conhecido eram Antônio Raposo Tavares e Manuel Preto.
Em seguida veio o segundo ciclo , chamado de “sertanismo de contrato” , foi a fase em que os bandeirantes eram contratados para combater os quilombos – aldeias de escravos fugitivos, que se formavam em locais de mata fechada, distantes das colônias. Domingos Jorge Velho era o bandeirante mais conhecido deste ciclo.
Finalmente, no terceiro ciclo ou “ciclo do ouro” , os bandeirantes passaram a dedicar-se à exploração das regiões auríferas, principalmente de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, e no qual se destacaram os bandeirantes Fernão Dias Pais, Manuel Borba Gato, Bartolomeu Bueno da Silva e Pascoal Moreira Cabral.
As principais conseqüências do movimento bandeirante foram a expansão da fronteira brasileira para territórios que pertenciam à Espanha pelo tratado de Tordesilhas e, com a exploração do ouro e diamantes, a fixação de populações em áreas urbanas, como as vilas de Ouro Preto, Sabará, Mariana e Diamantina, em Minas Gerais, Vila Boa, em Goiás, e Vila Bela, em Mato Grosso.
Conheça mais sobre os principais bandeirantes:
Antonio Raposo Tavares, (1598-1658), explorador português, que chegou ao Brasil em 1618, fixando-se em S. Paulo, onde logo se entusiasmou em participar nas expedições destinadas a aprisionar índios. Sua grande aventura ocorreu a partir de 1648, quando, à frente de uma bandeira destinada ao norte do país, alcançou, em 1651, a fortaleza do Gurupá na foz do rio Xingu.
Fernão Dias Pais, (1608-1681), bandeirante paulista, desempenhou papel importante na reconciliação entre paulistas e jesuítas, mas também realizou incursões contra as missões jesuítas espanholas na região do Rio Grande do Sul, a fim de escravizar índios. O governo português incumbiu-lhe de realizar um empreendimento em busca de metais preciosos, o que originou a grande bandeira de 1674-1681, com a qual percorreu o interior mineiro. Encontrou apenas turmalinas, mas seu esforço permitiu que expedições posteriores descobrissem minas. Faleceu nesta jornada.
Manuel Borba Gato, (1628-1718), bandeirante paulista, participante da descoberta de ouro em Minas Gerais, nasceu em São Paulo e faleceu em Sabará, Minas Gerais. Acusado da morte de Rodrigo de Castelo Branco, administrador das minas (1682), refugiou-se no sertão até 1700, sempre colaborando nas explorações. Em 1700 obteve o cargo de guarda-mor do distrito do rio das Velhas, o que lhe garantiu poder e influência. Foi também vereador da câmara de Sabará.
Bartolomeu Bueno da Silva, (1672-1740), bandeirante paulista, nasceu em Parnaíba, São Paulo, e faleceu em 19 de setembro de 1740, em Goiás. Viveu em Sabará no início do século XVIII e em 1722-1725 dirigiu a bandeira que descobriu ouro na atual cidade de Goiás Velho, transformada em Vila Boa em 1739. Enriqueceu na região, pois, além de descobridor das minas, recebeu a concessão da cobrança pela passagem dos rios de Goiás.
Curiosidades
Geralmente os bandeirantes não levavam provisões, mesmo nas viagens longas. Levavam apenas cabaças de sal, pratos de estanho, cuias e as indispensáveis redes de dormir. Isto ocorria porque a viagem ficava muito difícil com tantas coisas para carregar e também porque não havia formas de conservar os alimentos, assim, os bandeirantes se alimentavam da pesca e das frutas que encontravam pelo caminho. Quando faltavam esses alimentos, utilizavam carne de cobra, lagartos e sapos ou rãs. Se faltava água, tentavam encontrá-la nas plantas, mascavam folhas, roíam raízes e, em casos extremos, bebiam até sangue de animais. Definitivamente não era um trabalho nada fácil!